sobre os períodos que passamos distantes um do outro – tentando nos tocar através das telas mosaicadas das videochamadas constantes – as possibilidades de estarmos mais próximos um do outro através da imagem digital – uma carta de amor que atravessa temporadas – uma biografia do nosso tempo juntos – um comentário acerca do curta-metragem ”monsoon”, de apichatpong weerasethakul
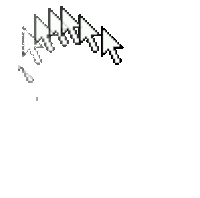
Para conhecer os vaga-lumes, é preciso observá-los no presente de sua sobrevivência: é preciso vê-los dançar vivos no meio da noite, ainda que essa noite seja varrida por alguns ferozes projetores. Ainda que por pouco tempo. Ainda que por pouca coisa a ser vista: é preciso cerca de cinco mil vaga-lumes para produzir uma luz equivalente à de uma única vela.1
chateauneuf-sur-charente, frança
são 9:29 da quinta-feira, 05 de setembro de 2024, 20 dias até estar de volta ao brasil. das coisas que eu gostaria de realizar o quanto antes, busco encontrar uma escrita de viés intermediário. talvez por ego, talvez por uma urgência pela honestidade (porque ainda penso em mim, dependendo do dia, como um híbrido destreza-covarde). quero tentar fazer focar uma lente embaçada, ou arranhada, emperrada. girar o mecanismo do foco manual com milímetros de toque, para ver os quase-lá, tentar conceber algo que tende a outra coisa, estar sempre um passo à frente mas ainda sentado em uma cadeira cromada gelada que me traz de volta ao presente. um oráculo declinante, tentando fazer o espaço-tempo caber em uma sinapse, ou se não, pelo menos em um cartão sd. as chamadas de vídeo com enzo têm acontecido todos os dias desde que cheguei em châteauneuf-sur-charente, cidade-margem microscópica perto de angoulême e cognac, mais ou menos perto de bordeaux, bem distante de paris. o viés intermediário que vou atrás é muito necessário por essa situação em que me encontro. quero fazer, com as palavras, justiça pelo aigre-doux.
doux porque escolhi e quis por muito tempo, fiz malabarismos criativos, teóricos e financeiros pelos últimos sete meses para estar aqui. fixar a borboleta com um alfinete antes que ela voe embora. a cidade é uma graça, medieval, o mercado é barato, a comida é boa, as pessoas são gentis na medida do possível. estou vendo o que nunca vi, ouvindo o que nunca ouvi, tocando os pés na parte de cima do mundo pela primeira vez. bem simples assim, sem rodeios, porque quero também saber aproveitar o fato pelo que ele é, aceitar um pouquinho de tempo-tato. meu lado historiador se emociona em estar aqui. um carvão com brasa ainda queima na minha costela e me leva de volta ao colégio, quando a professora patrícia me contou do percalço-justificativa de ir atrás da história, que se brilhassem meus olhos, eu deveria abrir o coração. e assim o fiz pelos últimos quatro ou cinco anos.
aigre porque ao chegar aqui me deparei com uma in-esperada introspecção imensa, causada tanto pela sensação corpo-alienígena-estrangeiro, quanto pelos incontroláveis e-se. de estar longe de onde sempre estive no único momento até hoje em que eu queria era estar perto de onde sempre estive. outra razão para a busca do relato intermediário é essa: tenho receio da ingratidão. quero fazer o recorte de uma zona cinzenta, onde nada é de fato o fim do mundo, mas por um instante parece o fim do mundo. um recorte de tempo onde o tempo não passa, onde às 20:30 ainda faz sol, onde uma veia do cérebro quase estoura ao tentar entender e me fazer entender, onde todas as contas são vezes seis e para eles nada é tão urgente. para não ser traído pela minha mente, passo os dias equalizando o aigre-doux, tentando racionar para além do tempo-tato, me convencendo da dualidade dos sentidos, forçando a vista. vendo a beleza dos lampejos.
“você está com sono, né?”, é o que enzo me pergunta todos os dias, por volta das 18:00 em bauru, 23:00 em châteauneuf. ainda assim continuamos em chamada de vídeo. descobrimos ontem que ao fazer o gesto de coração para a câmera, ela ativa uma animação de coraçõezinhos na tela. uma bobeira, um sistema corporativo de reconhecimento de movimento. mas a gente se diverte, eu repito, de novo, de novo, de novo. nossa dinâmica da repetição se mantém online como era em carne e osso, mas às vezes esqueço que preciso levar comigo o dispositivo para ele ver o que eu estou vendo. e nessa amostra se perde uma multitude. queria que ele sentisse o cheiro que anuncia o jantar na mesa lá embaixo, porque nossa relação é muito mediada pelo paladar (e sinto falta da comida dele).
o som dos pássaros abafado pela redução de ruído do microfone, porque em são paulo é algo que ouvimos pouco e seria muito bonito ouvir mais, talvez poder roubá-los com aqueles grandes equipamentos de field recording. as diferentes texturas da arquitetura da casa em que estou, porque pelo vídeo parece inacabada e descuidada, mas na verdade é cuidadosamente ornamentada com falhas, onde a parede mostra a construção original que estava aqui muito antes de todos os moradores atuais, mas também é sobreposta com intervenções de cor e acabamento dos artistas que passaram por aqui nos últimos anos. a profundidade do quarto que requer uma escada para acessar a cama, a qual subo com cuidado para não tropeçar, aproximando a câmera do rosto, ou me tirando do quadro para segurar no corrimão. tento ir atrás dos porquês de tudo, porque enzo sempre pergunta os porquês e me contorço para responder com algo além do silêncio do “não sei”. quero saber, quero ter a imagem completa apesar de todos os impasses tecno-mentais.
monções
um acorde de início me parece reconfortantemente familiar. traços de luz inscrevem-se em uma superfície mosaicada e textural, onde percebo as gramaturas e unicidades de cada quadrado que parece tintilar ao mísero movimento do caminho que esse corpo de luz faz em seu passeio. imagino que essa tela a qual assisto é como se eu passasse as pontas dos dedos em um monte fino de areia, deixando minhas impressões pelo contato da minha presença. a sucessão de acordes chega ao fim, ou faz seu intervalo. uma pessoa desconhecida, a qual eu tenho a chance de observar apenas os negros olhos, aproxima a mim, na ponta de seu próprio dedo, algo que parece ter receio de demonstrar sua própria vitalidade. um vagalume em meio a escuridão. uma mensagem após a catástrofe.
na verdade, após o som do acorde, somos apresentados a um lampejo, como que se aquele fosse o único momento em que o skype captou o som desse lado da conversa de vídeo, em que encontramos um homem que dedilha as cordas de um violão como se entoasse o começo interminável de uma canção de ninar desconhecida. a premissa de monsoon (2011), curta metragem dirigido por apichatpong weerasethakul, é aparentemente simples e situacional, alocada em um momento específico, ainda que em espaços distintos. quando o assisti pela primeira vez, não me lembrava do contexto que justifica sua estrutura díptica: após um devastador terremoto no japão, dois homens realizam uma ligação de vídeo em que nenhuma palavra é dita. os dois homens se amam. qual seria a distância que os separa? um deles está no japão, ou partilhamos, pela simultaneidade e pelos enlaçamentos permitidos pela tecnologia de qualquer parte do mundo, a coletividade do assombro do que não vivemos? penso nos amantes em hiroshima mon amour (1959) deitados em lençóis que se confundem com a areia dos destroços de uma guerra vivida, na medida, por todos. uma memória-mundo. para além de se verem, cada um em sua tela, qual a possibilidade dessa imagem os fazerem estar mais próximos após a catástrofe?
quando mostrei esse curta a luiz, ele que fez ser – da mancha viva que se faz de alguma forma um inseto – um vagalume (talvez por sua obsessão em georges didi-huberman). ainda não sei dizer ou dar nome ao que senti pela primeira vez ao ver esse vagalume, ou ao ver de perto o desconhecido – tanto da catástrofe, quanto de quem me encara do outro lado, ou de uma figura insetóide que me dá asco e me enfeitiça – ainda que eu não consiga o discernir com definição. ainda que o dedo pareça não tocar a tela, senti que esse bixo aproximava-se de meu rosto, em que as duas superfícies, a da tela do meu celular a qual eu assistia o curta metragem e a que me induzia ao encontro com o vagalume, tocavam-se. de certa forma, minha tela tornou-se meu rosto. na falta de definição dos traços do rosto que via com tanta proximidade, perco meu senso de integridade e separação do vídeo, relacionando-me corporalmente com o quadro e encontrando-me com o desconhecido.
enquanto escrevo isso, pequenas moscas aproximam-se à tela do meu computador, tocando as palavras aqui presentes. isso me faz questionar se, no curta, seria mesmo um vagalume. não há porquê vagalumes se atraírem à luz. talvez se atraiam à possibilidade do toque, assim como as moscas ou mosquitos. uma vez, luiz me deu um livro – curiosamente chamado vídeo e outros objetos digitais – que havia uma mosca, seca e prensada, nos meios da página. penso que poderia apertá-la com as pontas dos meus dedos, assim como aproximo-me de sua imagem, numa besta tentativa de acariciá-lo, em que acabo acariciando meu dispositivo.
vagalumes
quando falamos dos vagalumes, entre didi-huberman e apichatpong, entre eu e enzo, nos confundimos com nossos posicionamentos e nossas vozes. quem seria o vagalume – luiz para enzo, enzo para luiz, ou os próprios dispositivos? essa luz que se acende e me deixa tão feliz apesar do tato ser tão frio, tão distante, tão imaginativo, também se acende para ele. mas nos recusamos a dar a metáfora aos dispositivos já que eles não se acendem sozinhos. nós os acendemos, levantamos o braço, procuramos a tomada, ligamos e desligamos quando o resto do mundo pede. os vagalumes talvez estejam então nas camadas de intencionalidade das nossas vídeo chamadas: no despertar cedo dele e no meu adormecer tarde; na troca da câmera frontal pela traseira para mostrar o espaço; na mudança do wi-fi lento para os dados móveis um pouco menos lentos.
em todas as tentativas de contato através da tela, um loop de reaching, reaching, reaching, porque existe sempre um limite bem colocado. me afasto da câmera na tentativa de enzo me ver melhor, ver meu corpo todo, mesmo que a natureza dessa imagem faça com que sua representação fique cada vez mais mosaicada e pixelada com essa distância. depois me aproximo, abrindo mão da visão do todo pelo quadro fechado, no detalhe da boca, no corte que abre espaço para imaginação. direciono o olhar dele mesmo sem querer, uma caça ativa pela presença mútua na tela. enquanto isso, ao mesmo tempo, olhar para ele é também olhar para mim, já que meu reflexo está na tela menor, ao lado da transmissão dele. eu e ele ganhamos uma autoconsciência integral, lembramos o tempo todo de que estamos nos vendo, e que um depende do outro para tal. conversamos por horas, contemplamos a tela com o desejo incessante de acessarmos um espaço partilhado e de partilhar nosso corpo um ao outro. também temos a consciência da natureza efêmera desse contato, mesmo sabendo que estão cada um de lados opostos desse espelho onde encontram-se com o reflexo da imagem de seu desejo, falando entre si, se olhando com sentimento. os dois fazem as pazes com a forma complementar de suas presenças. o meu e o seu desaparecimento.
farnham, reino unido
primeiro semestre de 2025. o quarto acorda com o cheiro das cascas das toranjas, geladas, comidas à noite, e cujo sumo infusionou-se no ar com o calor do aquecedor ligado durante o meu sono. o que aqui escrevo é, em partes, a costura das memórias e entradas diarísticas durante os meses que estava longe de luiz e os próprios retalhos desse período. quando estou a um oceano de distância, é difícil definir a massa cinzenta que se resumiram muitos dos dias – em que estava prostrado em um quarto demasiado quente e cheirando a gás – sem pensar no frio e nas ligações com ele, mesmo que isso signifique não resistir a tentação de ser seduzido pelas lembranças.
são inúmeras as memórias que persisto a criar com luiz, contando os dias para vê-lo de novo. a expressão da nossa distância é definida pela interação que constituímos constantemente com nossos dispositivos de vídeo. essas máquinas, pequenas criaturas que permearam nossa relação desde o início: lembro de um dos nossos primeiros encontros em que brincamos com uma handycam em um parque em são paulo, mirando suas lentes como se faria com uma luneta à luz que se refletia nos prédios espelhados à distância e no brilho do sol que escapava às rachaduras criadas pelos galhos no céu de fim de tarde. o vídeo enquanto meio distanciou-se de uma visão da imagem enquanto fruto de um gesto, pela tecnologia, de fabricação e do know how técnico – ainda que valorizássemos sua materialidade nos glitches que surgiam de nossas câmeras defeituosas e antigas, em uma geração de imagens a partir de uma virtualidade demonstrada apenas pela identidade de uma imagem em um monitor e suas linhas de varredura. o vídeo é a representação da perda de uma natureza simbólica e totêmica, representando a introdução de um novo capítulo à história de uma dimensão maquínica aos modelos de figuratividade, que nos atravessa na condição da urgência que tenho em ver seu rosto pela tela do meu celular e nunca sentir-me satisfeito. sempre querer ele mais perto. me contentar com sua telepresença.
nesse período, o vídeo perdeu sua condição de brincadeira em que eu e luiz constituímos uma relação de gostos e gestos em comum, produzindo imagens um ao outro como que pequenos adornos em que mutuamente nos presenteávamos, sem pensar em uma necessidade ou utilidade verdadeira de nos vermos, por exemplo, em uma distância que ainda duraria meses para se cessar. as telas tornaram-se nossos invólucros, o véu que acobertava e enquadrava a minha cara e a dele em dimensões retangulares que definiram a possibilidade de nossos encontros.
em uma dessas ocasiões, me protejo do frio que ameaça a iminência da neve dentro de minha caverna estrangeira. as luzes do meu quarto estão apagadas e as do dele também. eu, com o brilho sempre altíssimo da tela do celular, ainda sou meramente iluminado por um azul delicado que se faz ver meus olhos saltarem do poço de brancura que é meu rosto. luiz sempre reclamou desse brilho, e, obviamente, sua tela, imagino eu, deve estar iluminada no nível mínimo possível para ainda ver minha imagem sem agredir seus olhos escuros. penso isso porque não vejo nada além de uma superfície aparentemente toda escura, em que o que demarcava ainda o fato de que eu saber que estava ali era sua respiração, minimamente captada pelo microfone de seu celular. é tarde no brasil e ainda mais tarde em farnham. estamos os dois um tanto enfeitiçados de sono, provavelmente falando em palavras e temas esparsos, tentando pescar algum assunto que nos acorde e não nos deixe ancorar no sonho, porque isso significaria que algum de nós teria que desligar, e isso sim nos acordaria para pensar cada um na ausência do outro no seu lado vazio da cama.
por isso, me contento a observar uma tela escura, a qual encaro por algum tempo. na aparente pretidão luminosa que encaro com a cabeça deitada no travesseiro, retomo a pensar, como havia antes fabulado, quando ele estava distante e eu estava a sua espera, no brasil, de que maneira ainda posso sentir sua presença através de uma tela que, como uma membrana, dotada de seus poros pixelados, parece nos separar por tão pouca distância. apertando um pouco os olhos, ou de tanto fixar minha vista a seu reduzido infinito, pareço distinguir, entre a massa de pequenos blocos reticulares da imagem, um tom de preto mais avermelhado, que imagino ser sua silhueta. me fixo a esses outros dots como seu estivesse próximo a seu vulto; como se a imagem não fosse a tradução eletrônica da luz na tela que nesse momento enxergo, mas sim a presença de seu corpo ali, respirando num quase sono, em um fluxo de impressões táteis. o vídeo redefine à percepção o contorno e superfície das coisas, construindo universos borrados e sentimentais que formam essa ‘‘imagem-chuveiro’’ mosaicada e estilhaçada. essas partículas parecem se movimentar o tempo todo, e me ponho à dinâmica de completar os espaços livres deixados entre os dots dessa superfície: preencho os vazios e relaciono-me com os rastros de seu percurso inscritivo. o rastro de seu corpo do outro lado.
em outras vezes, quando luiz se aproximava a fim de mostrar alguma parte de seu corpo ou só se fazer, figurativamente, mais perto, meu olhar demorava-se na superfície para entender o que então ele dispunha, em seus planos próximos – os quais a linguagem videográfica guarda como seus quadros naturais, tendo em vista a precariedade da profundidade de campo possível no vídeo dessas ligações. na perda do referencial visual do que percebo, perco meu centro, sentindo a volatilidade da forma de meu próprio corpo, me colocando a dispor de também alterar a representação do que é possível ele ver na medida que a imagem que me aproximo me mostra enquadramentos dele que nunca vi. decido, como que instintivamente, a olhar com os dedos, construindo meu olhar a sua imagem porosa e reticular deslizando meus dedos sobre a tela e tocando suas variadas texturas – da propriedade imagem e do que é representado nela. sinto que o toque restitui meramente nossa distância. ao deslizar a ponta dos meus dedos, lhe mostro o silêncio. não há mais necessidade de dizer mais nada. meu ‘‘boa noite’’.
- Didi-Huberman, Georges. Sobrevivência dos vagaIumes. Vera Casa Nova, Márcia Arbex, tradução. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011, p. 52. ↩︎

texto de enzo caramori e luiz henrique otto
arte de julia lacerda



Deixe um comentário