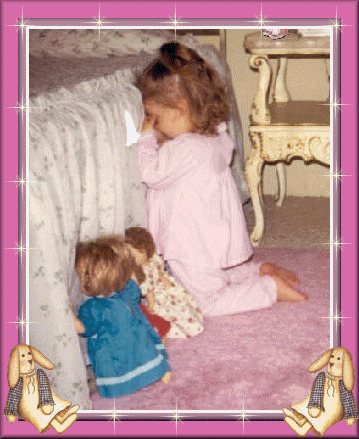
Quando fiquei online pela primeira vez, na rede de banda larga que ficava no quarto de minha mãe enquanto ela terminava o seu doutorado, desenvolvi conexões neurais e sensações jamais experimentadas antes. O poder da autoexpressão para uma criança artisticamente reprimida separou a linha cronológica da minha vida em “antes e depois”. Na internet, pude encontrar um ambiente grande o suficiente para me conter. Não estava mais na minha casa, na minha cidade, estava online.
Nascida em 1997, comecei a ter entendimento de mundo quando as irmãs Olsen, o Flogão e os gifs de glitter rosa estavam em alta. O quarto era o ponto central da vida de um adolescente, e refletia a transição entre vida analógica e a ingenuidade do advento da web (eram repletos de artefatos da época, como adesivos de golfinhos, computadores de mesa e posteres do Sleater Kinney). O meu quarto em Taubaté, por outro lado, sempre me lembrou tudo que eu não tinha – acesso ao mundo e às pessoas que poderiam me aceitar.
Criança, não tinha acesso a tudo que queria ser; em dúvida entre assumir uma identidade gótica, pintar o cabelo de vermelho e ouvir Evanescence ou ser completamente patricinha e usar rosa, glitter e ter um telefone em formato de boca (me sinto presa entre essas duas representações até hoje – é como se eu fosse simultaneamente a Mary Kate e a Ashley em No Pique de Nova Iorque). Na prática, eu não era nenhuma dessas coisas. Eu não era, não existia, não deixava qualquer marca expressiva no mundo.
Essa sensação permaneceu na vida adulta, e meus espaços, até hoje, não são santuários; nunca fui feliz confinada, talvez por nunca ter estabelecido uma relação saudável com a minha identidade. Sem espaço de construção de identidade, onde pudesse pendurar posteres de minhas bandas favoritas, meus filmes favoritos, as roupas que escolhi para me representarem socialmente, não sentia que estava num espaço realmente feito para mim.
No lugar, o quarto representava minhas falhas como dona de casa e como mulher. Sou oprimida pelos objetos empoeirados, que me olham carentes, necessitando que eu remova o seu pó, incapazes de fazê-lo por si. Cada blusa que quer suas manchas retiradas, cada família de aranhas para desabrigar em cantos difíceis de serem alcançados. O lar é uma lista de tarefas e me separa da completitude artística, apodrecida na gaveta como a salsinha comprada no dia anterior (não tive tempo de guardá-la em um pote no congelador). Fico bem na rua, quando a vida é ampla e nada é minha responsabilidade.
Após a Segunda-Guerra Mundial, rapazes adolescentes começaram a se organizar em grupos para se expressar por meio de subculturas. De acordo com o livro Girls and Subcultures (1976), de Angela McRobbie e Jenny Garber, esses garotos nasceram em um cenário de ampliação da liberdade sexual e do direito de ir e vir masculino – a castidade e os ideais hipotéticos de perigo impediram a dedicação feminina aos mesmos passatempos. Nos anos 1950, foi introduzido, às jovens, uma opção feminina de atividade subcultural: o trabalho.
Como forma de existir culturalmente, então, mulheres recorreram às compras, particularmente de roupas e maquiagens adequadas ao trabalho; o cárcere do lar se expandiu para o cárcere do trabalho e da indústria da beleza. A indústria sequestrou e massificou expressões de cultura popular em todas as esferas, mas, enquanto homens ainda podiam se organizar coletivamente, se autoexpressando e lutando por seus direitos, as mulheres sofreram precocemente o impacto da mercantilização da identidade.
A subcultura praticada por grupos minoritários é o mainstream para os outros. Relegadas a espaços controlados, esses grupos só conseguiram se organizar para se expressarem de forma não individualizada com a democratização do acesso à internet. Na representação midiática adolescente dos anos 2000, o quarto era o altar de consumo. Simboliza o conservadorismo, o consumismo e o sexismo – não obstante, foi uma imagem muito pavimentada por filmes estadunidenses. A cultura do quarto é a atualização do velho conceito de que mulheres deveriam se ater ao lar – não mais à cozinha, mas aos seus objetos, e agora, aos seus computadores, lubrificando a engrenagem do mercado.
No mundo moderno, o quarto é secundário no papel de autoconfinamento – ele virou um mero invólucro para olharmos às nossas telas com o máximo de conforto ao nosso redor. Se a minha casa me reprime, a web não me liberta mais, não desde o entendimento completo de que eu deveria primeiro gerar memórias para então depositá-las ali. Se antes o quarto confortava familiares de que neles suas filhas estariam castas, hoje a internet realiza esse papel e coíbe a ação coletiva. Nela adoeci e se nela permaneço não me curo.
Identidade já foi a minha maior fonte de felicidade; hoje, me aprisiona – e se o meu quarto me aprisiona, se a internet me aprisiona, se meu trabalho, minhas roupas, minhas maquiagens, tudo me aprisiona, santo deus, o que me liberta? Como retomar para o fluxo de bem-estar de mexer com HTML e postar no Flogão? Busco a resposta em bazares, em objetos, músicas, filmes e roupas dessa época, me cercando de memorabílias de quando me senti plenamente feliz. Quero achar, na mídia analógica, o retorno para uma dose saudável de autoexpressão e conexão perdidos dentro de mim há 11 anos.
texto por laura rouanet
arte por andressa constantino
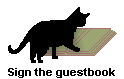


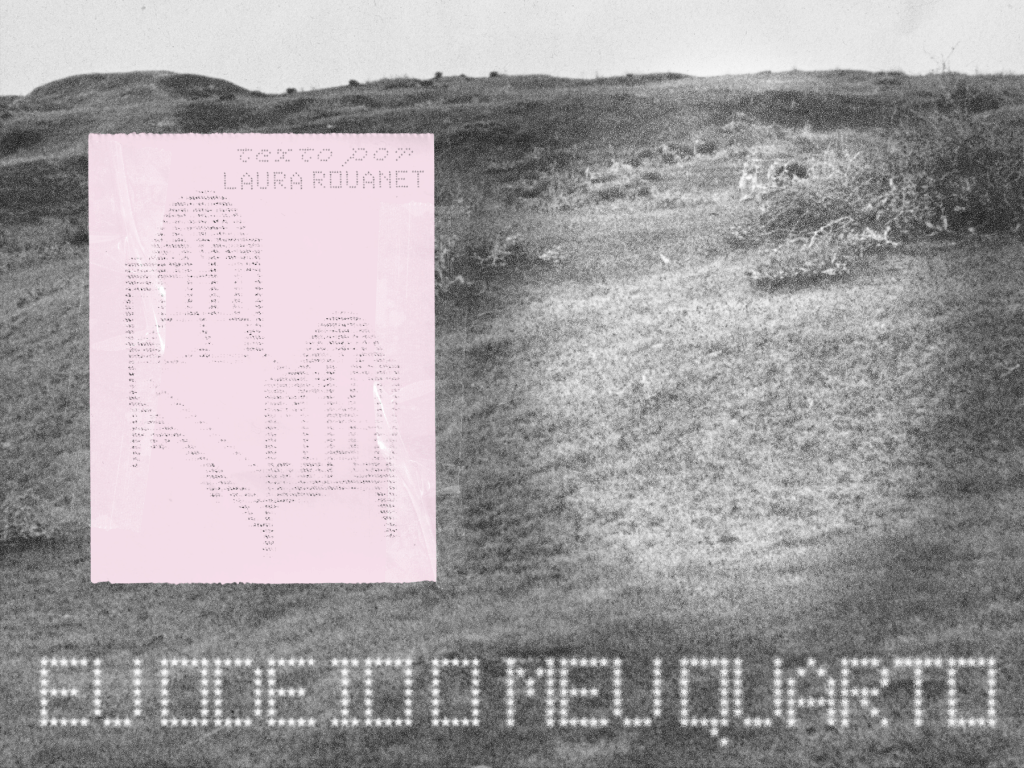
Deixe um comentário