as últimas semanas foram agitadas demais, e os acontecimentos recentes só reforçam questões que eu já vinha trazendo aqui antes. A diferença é que agora estão mais escancarados, porque aparecem nas manchetes de jornais e explodem nas redes: o assassinato de Charlie Kirk, a demissão de Zazá Pecego da Vogue, a famigerada “PEC da Blindagem” com a assinatura de 12 deputados do PT, as manifestações de domingo — marcadas pela ausência gritante de artistas jovens —, a sentença contra Bolsonaro e os movimentos de boicote cultural, com artistas retirando suas músicas do território de Israel.
é uma sensação amarga ver que minhas leituras do momento político se confirmam dia pós dia. Não porque eu quero estar certo, mas porque dói perceber que enxergamos as engrenagens se movendo e, mesmo assim, temos pouca força material para interferir nelas. Quando eu falei sobre o modus operandi de viver endeusando grandes marcas, ou endeusar artistas do primeiro mundo, sobre a ilusão de que as minorias estavam conquistando “espaço” em lugares de privilégio, sobre eu não querer ser um “token” em meios privilegiados, já sabia que essa vitrine era frágil. E a demissão de Zazá Pecego da Vogue Brasil é a prova viva disso: basta um posicionamento político claro para que a máscara da diversidade caia e a lógica do capital se imponha.
a tal onda de “inclusão”, “sustentabilidade” e “diversidade” e “liberdade de expressão” nunca foi sobre emancipação real. Foi apenas o verniz do capitalismo tardio, uma atualização estética do mesmo sistema de exploração que estrutura o Brasil desde a escravidão. Essa engrenagem branca, elitista e imperialista sempre existiu. Por um tempo ela precisou se mascarar, subindo alguns tokens pretos e periféricos para as capas de revista, para os palcos e passarelas. Mas tokens são descartáveis: quando entram em choque com a ideologia dominante, são triturados sem cerimônia, a liberdade de expressão liberal tem as suas regrinhas, e quem dita são eles.
Zazá, como outras pessoas pretas super talentosas que orbitam esses espaços, foi usada como vitrine e depois descartada. E, infelizmente, sabemos o que vem depois: daqui a pouco a Vogue Brasil organiza uma festa exclusiva cool em São Paulo (assim como foi aquela da H&M), com DJs, artistas hypados, modelos e pessoas do underground, e a mesma bolha que finge indignação agora, vai estar lá fazendo stories, exaltando a marca, performando pertencimento. Porque a lógica dominante consome essas pessoas pela estética, pelo cosmético, pelo ego — não pela consciência.
essa dinâmica não é nova. É a mesma que sempre empurrou a periferia e os corpos negros para a margem, enquanto uma pequena elite decide o que é “aceitável” dentro da cultura. O que estamos vivendo é a reatualização daquilo que Lenin já apontava: em momentos de crise, o capitalismo revela sua face mais violenta. O fascismo não surge do nada — ele é a resposta brutal da classe dominante quando sente que seus privilégios estão ameaçados.
por isso precisamos entender que esses pequenos espaços de vitrine nunca foram nossos. a vitrine não é emancipação, é apenas integração subordinada à máquina. a verdadeira disputa está na base: no território, na cultura popular, nas ruas, nos atos, na produção autônoma que não depende de aprovação do capital. quando artistas e pessoas jovens se ausentam das manifestações, quando preferem a selfie numa festa de grife com uma logo gigantesca de fundo fazendo publicidade de graça, ao invés de se colocar ao lado do povo, vemos como a hegemonia burguesa opera: neutralizando, anestesiando, transformando a rebeldia em mercadoria.
o caso da Zazá não é apenas sobre o mundo da moda, é sobre política — é a lembrança de que não existe conciliação possível entre emancipação negra e o poder burguês. enquanto o capital mandar, seremos sempre descartáveis. estou totalmente ao lado da Zazá e profundamente entristecido com tudo o que aconteceu. apoio sua luta política e estarei com ela nessa batalha, torcendo para que consiga se reerguer e continuar firme na resistência.
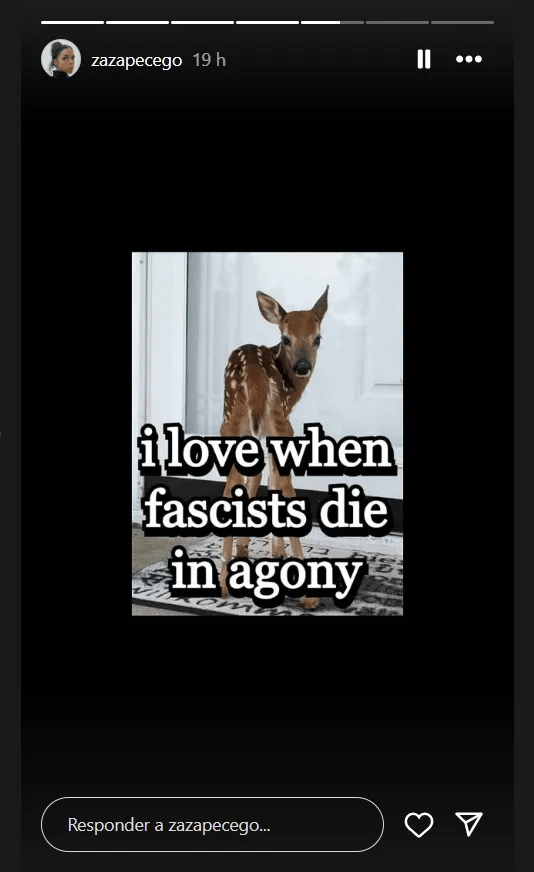
e algo que tem me incomodado muito é que me enoja ver que pessoas próximas ao meu convívio estão ficando cada vez mais rasas, capturadas por ideais do capital e pela lógica da isenção. Essa neutralidade estética, de “dar close” nesses lugares cools e venerar espaços de privilégio, só serve para reforçar a engrenagem que nos oprime. Sério, será que toda semana precisa rolar uma demissão televisionada como a da Zazá Pecego pra vocês acordarem? Se é que acordaram né, até quando vamos aplaudir essas vitrines do capital que sempre se voltam contra nós? A Vogue é podre e elitista, assim como todos os grandes conglomerados de mídia e cultura que fingem abrir espaço para a diversidade enquanto seguem sustentando o racismo estrutural, a exclusão e o fascismo; a ideologia dominante dentro desses meios sempre foi a Direita, sempre foi a favor do capital. A idolatria cega que muitos têm por essas instituições é patética. É urgente rever quem vocês colocam no pedestal e o que de fato consideram “grande” ou “relevante”.
e acredito que, sim, nós — enquanto minorias historicamente oprimidas — devemos ocupar os espaços de privilégio, extrair recursos e influência dessas estruturas burguesas, mas jamais venerá-las. Devemos entrar nesses lugares com plena consciência de que estamos apenas hackeando o sistema, temporariamente manipulando suas contradições, sem jamais nos confundir com ele. Somos minúsculos diante do poder acumulado da elite, mas podemos usar essa posição estratégica para acumular força, articular resistência e sustentar nossa autonomia política e cultural. Usufrua do que o capitalismo oferece, mas sempre com prudência, consciência histórica e firmeza ideológica — lembrando que cada ação nesses espaços é também um ato de luta contra a própria hegemonia que nos oprime.
Ontem, depois de eu voltar da manifestação contra a anistia e contra a PEC da Blindagem na Avenida Paulista, abri os stories no Instagram do Agazero e dei uma pequena scrollada no X (antigo Twitter), e namoral? Senti um desgosto profundo. Enquanto eu e tantas outras pessoas estávamos nas ruas, enfrentando o sol, o calor, logo depois a baixo de chuva e botando a GCM que ameaçou fazer uma gracinha pra correr, tudo em prol de defender um mínimo de democracia, a minha timeline do Twitter e os stories estavam tomadas por futilidades, pelo mesmo vazio estético que embala essa bolha.
vi gente daqui de São Paulo, sim Brasileiros, nesse mesmo dia fazendo posts de obsessão com Nova York?? endeusando a cidade como se fosse a Meca do lifestyle burguês. Eu teria vergonha de postar isso num domingo de manifestações. e o mais absurdo é que muitos desses que estavam postando futilidades são pessoas que eu conheço do nosso rolê, e das chamadas minorias, pessoas que até se dizem de “esquerda”, não são pessoas da Direita, mas que eu até suspeito muito pelas atitudes estranhas, é doido pois elas são do meio onde eu circulo, que permeiam música eletrônica, moda e artes, vários ocupados repetindo a estética mais rasa que já vi ressurgir — essa caricatura branca estadunidense de 2012/2013. na minha cabeça eles estavam tipo “foda-se manifestação, vou postar stories com a estética bem Tumblr” “manifestação? que nada, eu vou é farmar aura”, com uma camiseta “I HATE ALGUMA COISA” escrita numa fonte esticada, com óculos escuros gigantes, casacos de pele fake ou casacos pretos de couro, num cenário avant-garde meio brutalista, biscoitando com pose de modelo, alguns itens de grife e uma musiquinha de algum branco americano tipo 2hollis tocando ao fundo.

manifestação de esquerda X manifestação de direita
essa estética do “swag branco”, do consumismo travestido de rebeldia, agora reencarnada em duos como Snow Strippers, que na minha visão é só uma cópia malfeita do Crystal Castles, é sintoma claro da alienação cultural. Um duo branco que levanta a bandeira dos Estados Unidos como estética, enquanto artistas daqui — negros, periféricos, precarizados — são invisibilizados, tem uma bolha aqui no Brasil que de fato endeusa artistas como eles, como se vivêssemos na mesma realidade. é bizarro pensar que, enquanto aqui enfrentamos fome, violência policial, desigualdade e precarização, alguns jovens dedicam energia em idolatrar figuras que não têm relação com nosso contexto e que reproduzem as mesmas estruturas de poder que nos oprimem. tá tudo bem você escutar artistas assim, até eu já escutei alguns deles, por exemplo o fakemink que tem uns sons legais, eu curti mais pelas batidas serem um revival do Jerk, Hoodtrap que faz referência ao Nola Bounce, mas é outro também que força muito essa estética vazia, não consigo botar muita fé, ele sempre ta carregando a bandeira do Reino Unido colonialista em fotos com garotas brancas fumando vape e fazendo poses tumblr. a sonoridade desses artistas que estão nessa estética é até legalzinha, mas reproduzir esse Lifestyle por aqui no Brasil, copiar TUDO, beira ao rídiculo, vocês não estão em New York ou em London, vocês estão no Brasil, acordem!

esse “swag branco” retorna com força, não mais associado à ostentação explícita, mas disfarçado de rebeldia estética. Artistas como Snow Strippers, 2hollis (nepobaby da indústria musical), Nettspend, The Hellp e Bassvictim apresentam uma estética que mistura elementos do indie sleaze com referências ao “swag” dos anos 2010, marcada por uma fusão de Trap, EDM, Electro House e influências do hyperpop, criando uma fachada de rebeldia que, na verdade, serve para reforçar a lógica do consumo e da superficialidade, e sempre carregando uma bandeira dos Estados Unidos da América como estética, será que vocês não acham isso no mínimo estranho?

Snow Strippers, por exemplo, são descritos como um duo que mistura “electronic chaos” com uma estética trash. Sua música é uma fusão de electro-pop, EDM, witch house, electroclash, trance e hardstyle. Essa mistura cria uma sonoridade que, embora pareça inovadora, na verdade recicla estéticas passadas sem oferecer uma crítica substancial ao sistema que as originou. Esses artistas, ao adotarem essa estética de rebeldia, acabam reforçando os mesmos valores que dizem criticar. Ao invés de questionar as estruturas de poder e consumo, eles as abraçam, tornando-se produtos dentro do próprio sistema que pretendem subverter, cooptando a juventude rebelde e transformando sua energia contestadora em mais um nicho de mercado. A colaboração de Snow Strippers com Lil Uzi Vert é um exemplo claro dessa dinâmica. Enquanto artistas negros e periféricos lutam por espaço e reconhecimento, as vezes lutam anos e anos por um “feat”, esses duos brancos conseguem rapidamente ascender na indústria musical, não por mérito artístico, mas pela capacidade de reproduzir estéticas em voga e serem facilmente assimilados pelo mercado, com a aparencia nos moldes tudo fica mais fácil.

E aqui no Brasil o efeito é ainda mais risível. Vejo gente forçando poses, estética, visual, posts, stories, tentando encarnar essa vibe de falsa “rebeldia gringa” como se isso fosse algum tipo de conquista cultural. Camisetas com slogans genéricos, fotografia Tumblr, biscoitando com pose de modelo, música de fundo escolhida a dedo só pra parecer cool, fingindo ser contracultura enquanto não existe consciência real do que acontece fora do feed do Instagram. É ridículo. Ridículo mesmo. Uma performance de rebeldia que não questiona nada, é aquela vibe meio “Miley Cyrus – Party in the U.S.A”, uma vibe meio “Projeto X” que só reforça a alienação e a estética branca meio adolescente que chega de fora e é tratada como referência máxima, enquanto a produção real, de artistas brasileiros que estão nas margens é ignorada, ou vista como “cafona” por essas pessoas dessa bolha.

O Duo The Hellp tocando ao lado de uma bandeira dos Estados Unidos.
É essencial que a juventude busque e apoie produções culturais verdadeiramente subversivas, que não apenas soem diferentes, mas que tenham coragem de questionar as estruturas de poder, o colonialismo cultural e a lógica de consumo de forma autêntica. A estética, quando reduzida a mera pose, vira vitrine para o capital; quando enraizada no povo, torna-se ferramenta de resistência.
Enquanto isso, aqui dentro, vemos essa galera playboy que chegou ontem no rolê, copiando poses de gringos, forçando estética e marketing superficial que mais parece piada de mau gosto. Essa elite cultural branca, que posa de alternativa e “ousada”, nunca representou o nosso chão, nossa realidade. Só que, enquanto a juventude continua consumindo esses artistas como referência, fica cada vez mais difícil atravessar a barreira da alienação e construir uma visão política sólida. É como se estivéssemos sempre correndo atrás de uma geração que idolatra fachada, que confunde hype com relevância, estética com luta.
O problema não é só de gosto musical — é político. Porque cada referência importa, cada artista que a juventude elege como modelo ajuda a moldar um horizonte de consciência. Se os nossos se espelham em cópias rasas de um “swag branco americano” ou em produtos feitos para vender estilo e não ideias, isso enfraquece a possibilidade de formar um movimento cultural nacional-popular, enraizado na realidade do povo brasileiro, eu sou mil vezes vocês idolatrando DJ’s do Funk como Ramon Sucesso, DJ Dayeh, DJ Bonekinha Iraquiana, DJ K, Anderson do Paraíso, Caio Prince, DJ Bassan, entre outros, do que pagando pau pra esses brancos genéricos estética Swag U.S.A New York.

E o mais cínico: enquanto rolava o boicote à Boiler Room, esses mesmos artistas americanos que eu citei estavam fazendo vários shows com a marca sem mover uma vírgula contra ela, fizeram tudo sem dar um pio, vários que citei são quase que campeões por mais aparecerem nas postagens de “GET TO KNOW: THE DJS LEADING THE WAY FOR ISRAELI EXPANSION” do perfil @labubur00m no Instagram, que posta memes com a questão dos DJ’s que fecham os olhos para os boicotes a Palestina e questões políticas. É doido como o duo The Hellp: brancos estadunidenses que surfam na contradição sem se posicionar, continuam sendo tratados como referência por vários. Como vocês conseguem idolatrar isso? Quem vocês estão escolhendo como “artistas de referência”? Isso não é só gosto pessoal: é política. O que consumimos e reproduzimos alimenta ideologias, esse papo de que “ah mas é preciso separar a música do artista”, desculpa mas isso não cola.
Diferente do boicote à Boiler Room no Brasil e em outros países do Sul Global, onde ainda havia discussão sobre artistas serem reféns do sistema — precisando do dinheiro para sobreviver e, portanto, com certa dificuldade de aderir ao boicote —, no caso dos artistas gringos e brancos do circuito hype isso não se aplica. Eles têm recursos suficientes para se posicionar e, ainda assim, continuam se apresentando nesses espaços enquanto se calam sobre os boicotes. Esse silêncio estratégico não é inocente: é conivência, é adesão tácita ao sistema que sustenta o genocídio e a opressão. E o pior é que muitos repetem esse comportamento mais de uma vez.
Fica evidente: é sempre necessário observar de perto as páginas de boicote, porque vários dos seus ídolos estão sendo estampados por simplesmente ignorar a situação na Palestina e priorizar seu lucro e status acima da ética e da solidariedade internacional.



E aí voltando pra questão do Brasil, quando anunciaram que Caetano Veloso, Chico Buarque, Djavan e Gilberto Gil iriam se apresentar no ato do Rio de Janeiro contra a PEC da Blindagem e contra a anistia, a galera ficou surpresa. “Nossa, cadê nossos artistas jovens? Cadê eles?” “Precisaram convocar os mais velhos que já lutaram muito por nós” Pois é. Essa surpresa só revela o óbvio: nossa geração de artistas está profundamente despolitizada, já estou falando isso faz uns meses por aqui. É claro que sempre há exceções — como Sofia Chablau, que fez um discurso potente no trio aqui em São Paulo e me deu um sopro de esperança. Mas a regra geral é de silêncio cúmplice. Os “grandões” jovens, os que poderiam usar sua visibilidade para tensionar o sistema, simplesmente desaparecem.
Esse vazio não é coincidência. É resultado da cooptação. Antonio Gramsci já falava do papel da hegemonia cultural na manutenção do poder burguês: quando a rebeldia vira produto, quando a dissidência é transformada em estética consumível, o perigo real é neutralizado. Nossa cena, essa bolha em que eu também circulo, está cheia de artistas que se dizem independentes, se dizem “contra o sistema” mas que vivem orbitando em torno de idolatrar referências vazias e pagar pau pra grandes empresas sem nenhuma conscientização política, sem nenhum posicionamento. É fácil entender por que eles não estão nos atos: estar na rua implica confronto real, não dá like, não paga cachê, não traz convite VIP e a boa vizinhança com os P&R’s.
Um exercício bom que eu proponho: em cada manifestação, em cada movimento, em cada boicote, olhem os stories dos seus amigos, olhem a cena onde vocês estão inseridos. Quantos estão realmente engajados? Por aqui infelizmente são pouquíssimos. O resto está ocupado demais cultivando imagem, performando estilo, alimentando o algoritmo. Essa ausência não é só falta de coragem individual: é sinal de como a nossa geração foi moldada para acreditar que política é “cringe”, que engajamento nessas pautas é “radical demais”. Mas quem tem medo da radicalidade é porque já se acostumou a ser útil para o sistema.
A verdade é dura: ou a arte se coloca a serviço do povo, ou se torna mercadoria barata a serviço do capital.
Eu admito: nunca fui muito próximo da sonoridade dessa galera da MPB mais “tilelê”, a esquerda cirandeira de SESC. Sempre me pareceu distante da vivência periférica, muitas vezes estetizada demais. Mas é inegável que, quando a coisa aperta, é essa mesma “tilelezada” que coloca o corpo na rua, vocês que são os diferentões, os “não normies”, os experimentais, os conceituais, cools, ficam quietinhos. Quando a democracia está em risco, quando o fascismo avança, são eles os tilelês cirandeiros, fãs de Caetano Veloso que carregam cartazes, que puxam atos, que enfrentam a repressão policial, enquanto vocês dessa cena onde estou inserido preferem dar close no instagram vivendo a vida boa, estranho né?
Uma outra questão que vi rodar por ai, que é uma pergunta que ecoa: cadê a Luísa Sonza? Cadê as outras divas do Pop BR? Cadê essa nova geração de artistas que ocupa capas de revista, line-ups de festival, espaços que se vendem como “progressistas”? Óbvio que não teve. Marina Sena, a mais tilelê desse meio foi quem apareceu, e namoral? Máximo respeito por ela! — e isso já foi um respiro —, salvo a Duda Beat que também fez presença no ato de Recife, mas a regra dos demais é o silêncio. E se eu entro na cena da música eletrônica do hype, a coisa é ainda mais gritante: se vi quatro DJ’s postando que estavam na manifestação, ou que postaram pelo menos um flyer de divulgação foi muito; se vi cinco compartilhando algo sobre o movimento de domingo, já foi raro.
Isso revela algo profundo: não é só despolitização, é cálculo estético. Muitos artistas têm medo de se comprometer porque acham que política é “cafona”, que não rende engajamento, que não combina com a persona curada do Instagram. É aquela lógica do “não posto cartaz do primo desaparecido porque estraga o feed”. A estética, mais uma vez, se sobrepõe à vida. E isso é a vitória da hegemonia burguesa: transformar a política em algo “feio”, deslocado, e a alienação em algo “cool”, é muita merda espalhada, é ver Whindersson Nunes tirando foto com Nicolas Ferreira, é ver os brainrots e gente debatendo por causa de uma cantora feita por IA chamada Tocana, é Labubu, ChatGPT, Carlinhos Maia, Bob Good’s, Virgínia Fonseca, Morango do Amor, a lista é extensa, é muita radiação.
Antonio Gramsci falava da guerra de posição, da necessidade de disputar a cultura como trincheira da luta de classes. O que vemos hoje é a capitulação de boa parte da juventude artística diante dessa guerra: em vez de disputar a narrativa, eles se tornam correias de transmissão do próprio capital. O medo de perder ouvintes, patrocínios, festivais ou seguidores pesa mais do que a responsabilidade histórica de estar ao lado do povo.
Essa ausência da cena artística jovem é mais do que uma escolha individual: é reflexo de uma geração moldada pelo neoliberalismo, ensinada a ver política como “cringe” e estética fútil como salvação, como válvula de escape.
O que me entristece é perceber que estamos cercados de artistas que confundem relevância com engajamento, grandeza com hype. E, no entanto, é preciso afirmar: não existe arte neutra. Ou ela serve à luta pela emancipação, ou serve ao capital.
Ah e sobre o lance dos deputados do PT assinarem a favor da PEC da Blindagem … — que muita gente já está chamando de “PEC da Bandidagem” —, volto a insistir: houve um tempo em que o PT era visto como referência de esquerda, e foi referência pra mim por muitos anos. Só que hoje, eu enxergo como esquerda moderada, já se esbarra no Centrão e até em práticas de gestão neoliberal, e não faz mais sentido pra mim. Esse movimento não é novidade: Lenin já nos alertava que em tempos de crise a social-democracia tende a se alinhar à burguesia, funcionando como freio da radicalização popular.
É nesses momentos que fica evidente a necessidade de articulação por uma esquerda radical, enraizada na periferia, nos movimentos trabalhistas e populares, e que também se comunique com a nossa juventude e principalmente com a classe média que se afastou e hoje se identifica como burguesia, sem medo do confronto. Essa esquerda morna, conciliadora, pacifista até o limite da covardia, só nos conduz à desmobilização.
E é por isso que, embora eu respeite profundamente a importância histórica da Tropicália e dos grandes nomes da MPB, nunca consegui me aproximar demais dessa vibe “tilelê”. É bonito, é lírico — eu amo o Djavan, o Milton Nascimento, e o Chico Buarque é uma lenda viva. Foi uma experiência doida ver ele cantando “Cálice” nos vídeos da manifestação no Rio de Janeiro. Essa música, escrita em plena ditadura militar, é um hino de resistência: o silêncio forçado, a censura e a repressão são transformados em poesia e protesto. Ela dialoga com a dor e a luta do povo brasileiro daquela época, usando a arte como arma contra o autoritarismo e a opressão.
Mas a minha visão é que esse tipo de som, infelizmente, hoje não dá conta da brutalidade do presente. O “Cálice” foi efetivo na ditadura porque falava para um contexto específico, com censura explícita e violência institucional direta. Hoje, vivemos um tempo de fascismo reconfigurado, neoliberalismo agressivo, genocídios periféricos, violência policial sistemática, avanço do racismo estrutural e crises internacionais. É preciso música que não apenas encante os ouvidos, mas que ataque o sistema com urgência e visibilidade, que canalize raiva em ação e construa consciência coletiva, sem se perder em lirismo contemplativo.
Hoje o que falta são artistas jovens com atitudes mais punks, mais sujos, mais agressivos, dispostos a traduzir o caos do nosso tempo sem filtros. Precisamos de vozes que não apenas celebrem a vida, o mar, os rios e a beleza da natureza, mas que também expressem o ódio necessário ao sistema que nos mata todos os dias. Porque a arte também é arma. Bertolt Brecht já dizia que, em tempos de escuridão, falar de flores é quase um crime.
E é por isso que, por mais que as pessoas critiquem o Oruam, pelas suas várias contradições, eu continuo botando alguma fé nele. Ele era o único artista jovem que vinha fazendo um papel fundamental numa luta importante, ele era o mais próximo que eu via de uma atitude mais Punk, tinha muito potencial, e agora ele está há um mês preso e vocês não falam nada, largaram de mão.
A prisão de Oruam, em julho de 2025, é emblema dessa perseguição. Ele foi indiciado por tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal, após impedir a apreensão de um adolescente procurado pela polícia. Esse episódio reflete a criminalização da juventude negra e periférica, uma estratégia do Estado para manter o controle sobre as classes subalternas. Além disso, a proposta da “Lei Anti-Oruam”, feita pela corja do MBL, apoiada por Nicolas Ferreira, e outros políticos da Extrema Direita, que visa proibir o financiamento público a shows de artistas acusados de apologia ao crime, é uma tentativa clara de censura e repressão à expressão cultural das periferias.
Eu, particularmente, não consigo ouvir canções muito bonitas ou letras sobre “a vida ser linda” enquanto o fascismo se reorganiza, enquanto a fome volta aos nossos bairros, enquanto Israel bombardeia crianças palestinas e empresas brasileiras seguem lucrando com isso. O que me move são sons que alimentam meu ódio contra o sistema, que transformam raiva em energia política. É essa estética da revolta, da sujeira, da visceralidade, que pode nos ajudar a construir uma consciência coletiva e radical.
E eu fiquei de fato contente ao ver a Björk, Massive Attack e vários outros artistas retirando seu catálogo do território de Israel — um gesto que ecoou muito forte, ainda mais com a consolidação do movimento No Music For Genocide na última semana. Isso abriu um precedente importante: mostrou que a luta cultural não é um detalhe periférico, mas parte essencial da pressão internacional contra regimes genocidas. Eu também fiz minha parte: pedi às distribuidoras que removessem todos os meus 7 projetos musicais do território israelense.

Claro, como era de se esperar, surgiram críticas banais: “a música deveria ser pra todos”, “o povo de Israel não tem culpa”. Esse tipo de argumento é usado para esvaziar a luta e manter as coisas no terreno da moralidade liberal, afastando o debate do campo da luta de classes. Mas o que essas pessoas não compreendem é que boicotes culturais são parte de uma estratégia histórica de enfrentamento ao imperialismo. Eles não nascem do nada: foram decisivos na luta contra o apartheid na África do Sul, quando artistas como Miriam Makeba, Stevie Wonder e até os próprios sindicatos internacionais se recusaram a se apresentar ou circular naquele território. Esse isolamento cultural ajudou a corroer a legitimidade internacional do regime racista e pressionou de dentro para fora.
Não se trata de uma questão estética, mas de uma tática materialista de desgaste do inimigo. Retirar a música, o cinema, a circulação cultural não é um castigo “individual”, mas sim um método de pressionar a sociedade civil daquele país a enxergar o isolamento, sentir o desconforto e levar isso como contradição interna ao próprio Estado. É uma linha direta de ação contra a hegemonia cultural do sionismo — e exatamente por isso causa tanto incômodo.
O imperialismo sempre utilizou a cultura como arma — seja na exportação de Hollywood como propaganda da “american way of life”, seja nas invasões “soft power” que moldaram subjetividades ao redor do globo. Se a burguesia usa a cultura como ferramenta de dominação, a classe trabalhadora também deve utilizá-la como ferramenta de resistência. É por isso que eu digo com clareza: se você é artista, se produz qualquer tipo de trabalho cultural, não basta “emitir nota de repúdio”. O boicote cultural a Israel é uma trincheira concreta dentro da guerra de classes internacional.
E como bem lembrava Lenin: “A política é a expressão concentrada da economia”. Boicotar Israel no campo cultural é, no fundo, um ato econômico, porque retira capital simbólico, retira mercado, retira legitimidade. A luta contra o genocídio palestino não pode ser apenas discursiva, ela precisa de ações que desgastem materialmente o inimigo.
Para quem quiser se engajar e entender melhor a campanha: nomusicforgenocide.org.
Esse boicote cultural a Israel não é um gesto isolado, ele se conecta a uma tradição histórica de resistência contra o imperialismo. Basta lembrar de como a luta do povo vietnamita contra os EUA não foi apenas militar: ela contou também com uma poderosa rede de solidariedade internacional que passava pela música, pelo cinema e pela produção cultural. Do jazz engajado de Charlie Haden até os movimentos estudantis europeus que cantavam pela vitória do Vietnã, a trincheira cultural foi parte essencial para minar a narrativa hegemônica da máquina de guerra estadunidense.
O mesmo vale para Cuba. Durante décadas de bloqueio, o país não sobreviveu apenas com fuzis e planos econômicos, mas também com a construção de uma cultura revolucionária que virou arma política — do Nueva Trova de Silvio Rodríguez e Pablo Milanés até os cartazes do ICAIC, que se espalharam como símbolos gráficos da luta anti-imperialista. Era cultura contra o cerco, cultura contra o isolamento, cultura como parte inseparável da prática revolucionária.
Na África, a luta de libertação em Angola e Moçambique também teve ecos culturais fortíssimos: músicos como Fela Kuti, na Nigéria, transformaram sua arte em denúncia contra o colonialismo, usando o palco como barricada. A burguesia sempre tentou retratar a cultura como “neutra”, mas a realidade é que toda obra circula em um campo de disputa ideológica. Ignorar isso é cair na armadilha liberal de acreditar que arte pode ser separada das condições materiais em que nasce.
E aqui chegamos novamente ao presente. O genocídio na Palestina não é apenas um episódio distante, é parte de um projeto imperialista global que conecta Tel Aviv a Washington, Londres, Berlim e às burguesias locais cúmplices. Boicotar culturalmente Israel é reafirmar que estamos do lado da resistência palestina — e, por extensão, do lado de todos os povos oprimidos que enfrentam o imperialismo.
Como disse Che Guevara, “a solidariedade é a ternura dos povos”. Mas ela não pode ser apenas simbólica ou romântica — precisa ser concreta, dura, organizada. É por isso que o boicote cultural, por menor que pareça, faz parte de uma estratégia de desgaste real, uma contribuição internacionalista à luta do povo palestino.
E é aqui que a ferida volta a latejar no Brasil. Enquanto artistas do mundo inteiro se posicionam contra Israel e entram em movimentos como o No Music For Genocide, aqui dentro ainda temos uma cena que, em grande parte, prefere se esconder atrás do discurso da “neutralidade estética”. É o mesmo silêncio cúmplice que vimos nas manifestações contra a PEC da Blindagem, na luta contra a anistia, no esvaziamento das ruas quando a classe trabalhadora chama.
O que me incomoda profundamente é perceber que essa ausência de postura não é fruto só de “despolitização”, mas também de um fetiche estético burguês, onde ser “cool”, “minimalista” ou “sofisticado” vale mais do que se comprometer com a vida do povo. Essa lógica é parte da captura neoliberal da cultura: artistas se tornam marcas, seus discursos são calibrados não para transformar a realidade, mas para agradar algoritmos, patrocinadores e curadores de festival.
Mas a verdade é dura: arte que não se coloca contra o genocídio, contra o imperialismo, contra a exploração, não é neutra — é cúmplice. Do mesmo jeito que a MPB “tilelê” que eu “critiquei” antes por eu não me identificar muito, ainda mostrou mais coragem em ir às ruas do que a maioria da cena jovem, é preciso dizer sem medo: não adianta posar de underground, alternativo ou progressista se, na hora que o povo palestino grita por socorro, o máximo que você faz é postar flyer de festa.
Precisamos retomar a cultura como ferramenta de luta, como fizeram os tropicalistas em meio à ditadura militar, como fez o rap nacional dos anos 90 denunciando a violência policial, como fez o punk gritando contra a carestia. A nossa geração tem que aprender que o microfone, a CDJ, a guitarra ou o Ableton também são armas. A pergunta que fica é: você vai usar a sua para fortalecer o sistema ou para combatê-lo?
Porque no fim das contas, a história não vai lembrar quem estava “cool” em 2025. Vai lembrar quem se posicionou.
Texto retirado do Substack de Eric Alves (Agazero, DJ LHC, ICQ BABY, 177th, particulas ocultas).


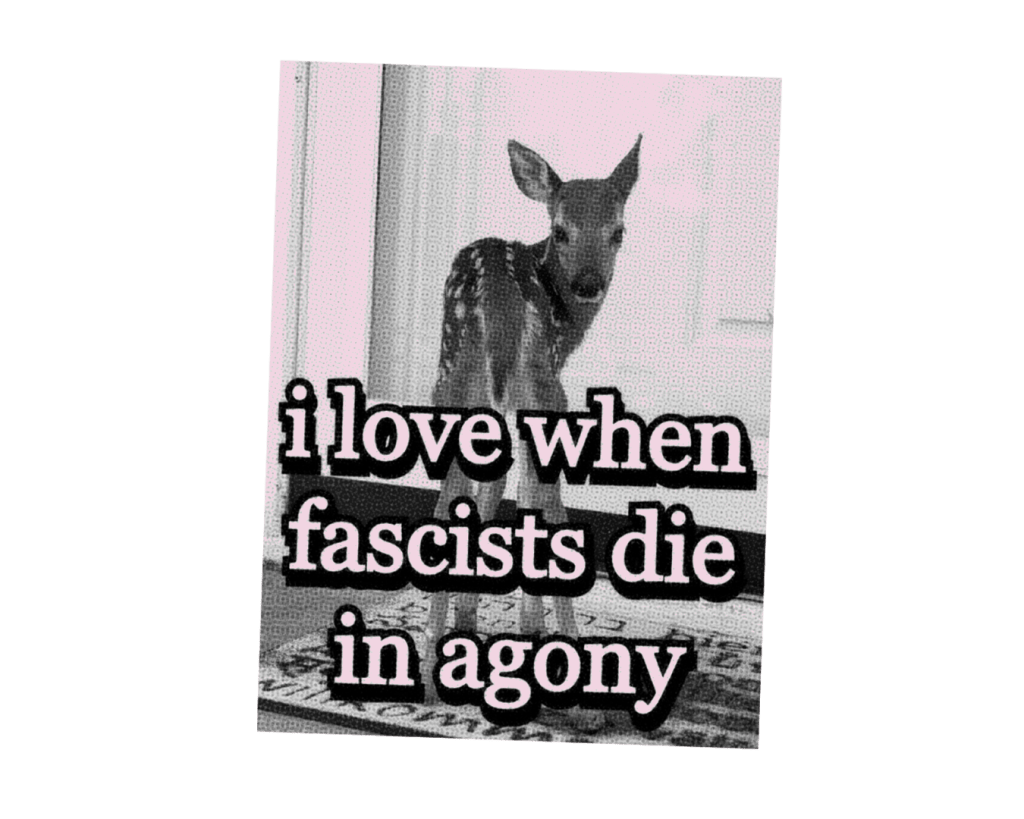
Deixe um comentário